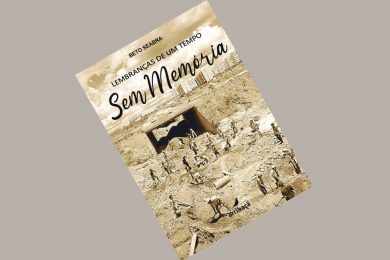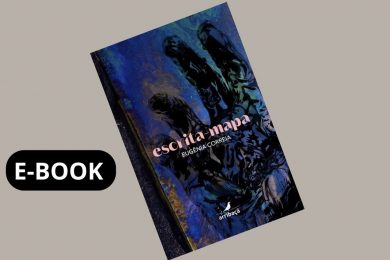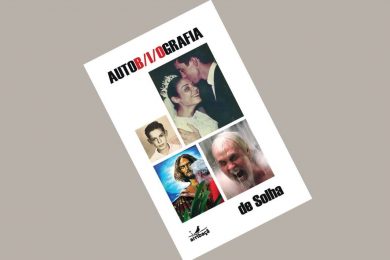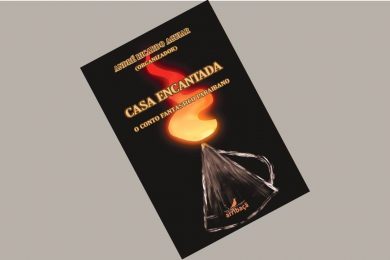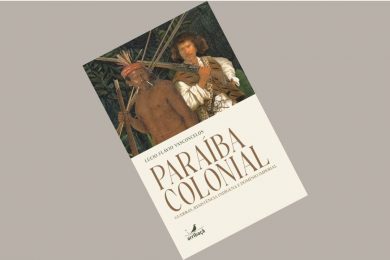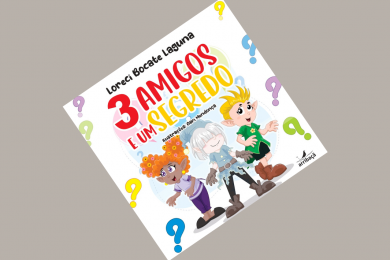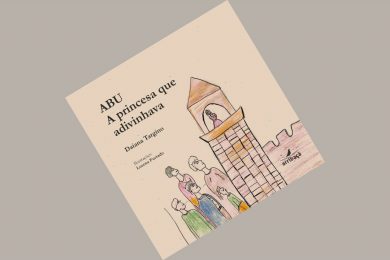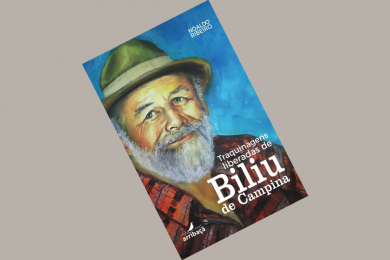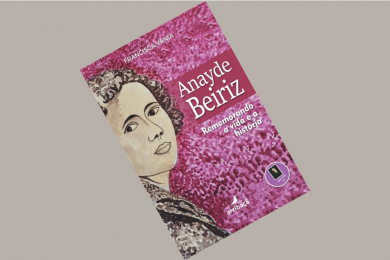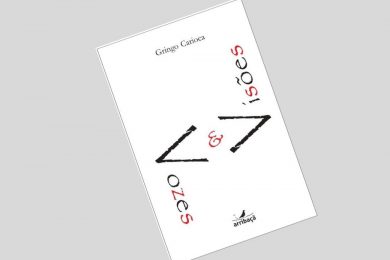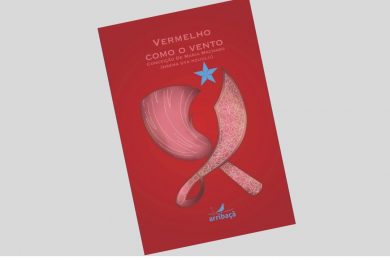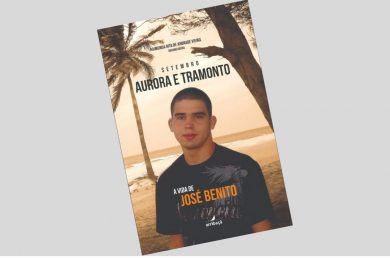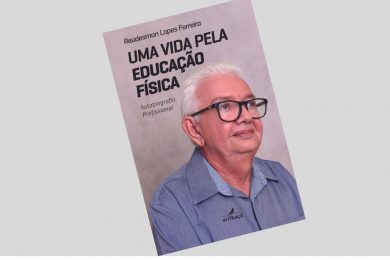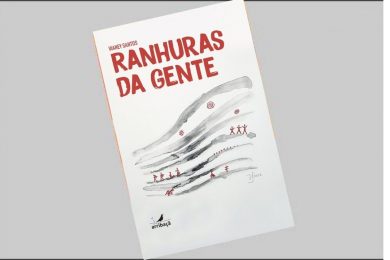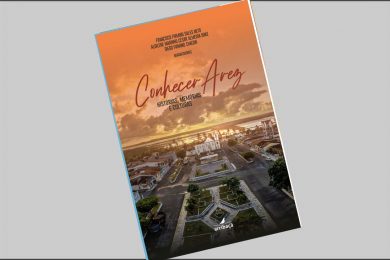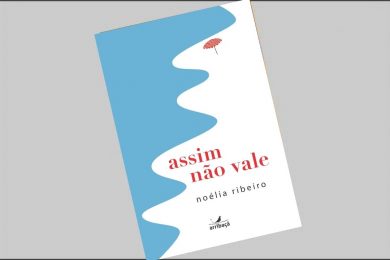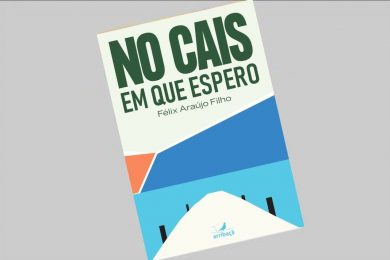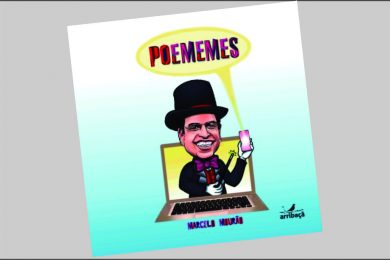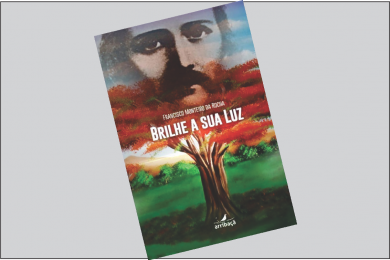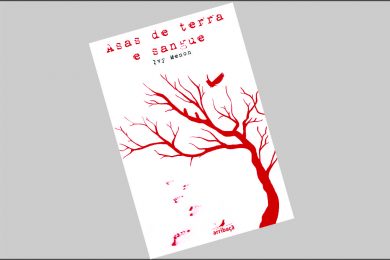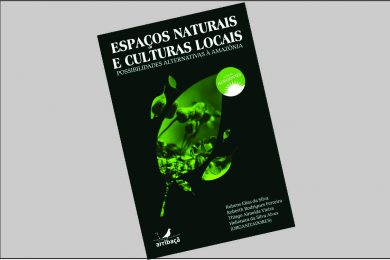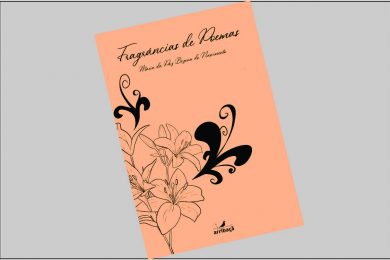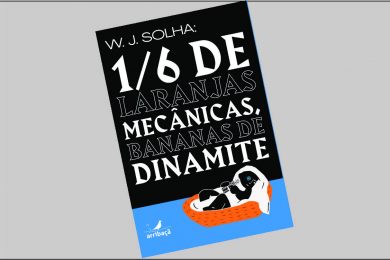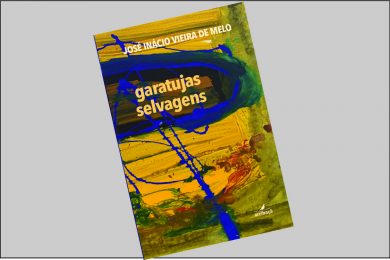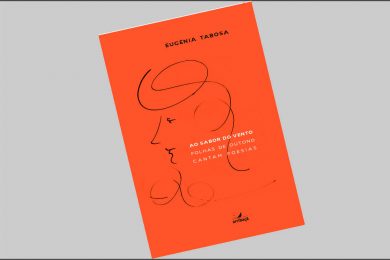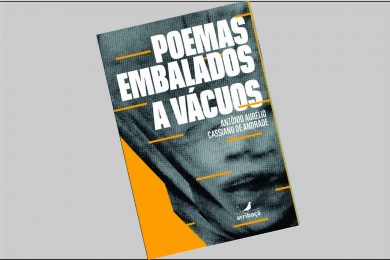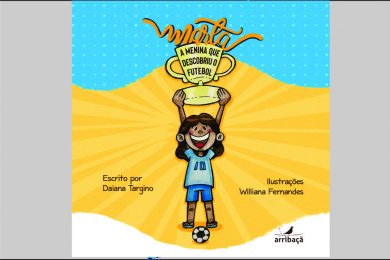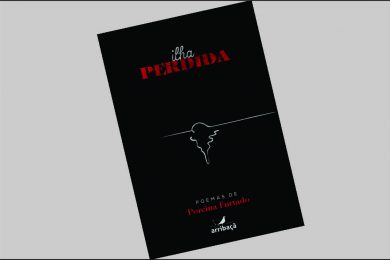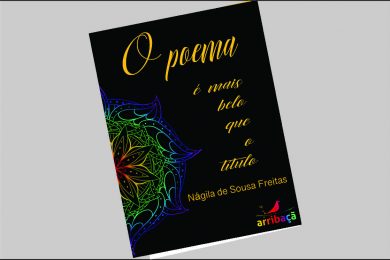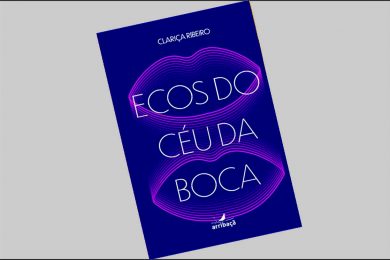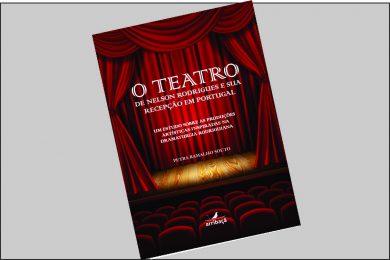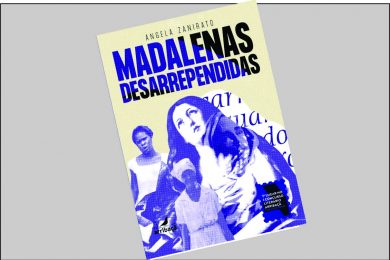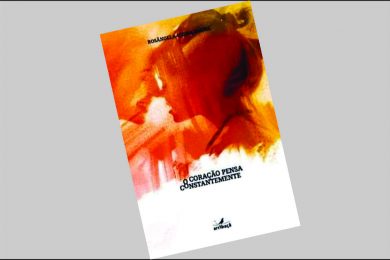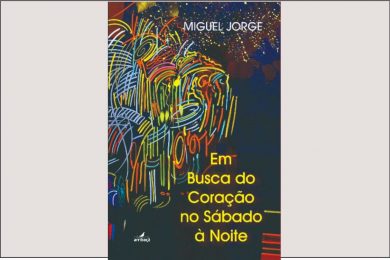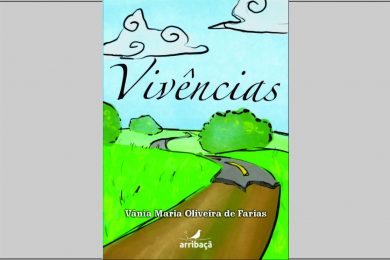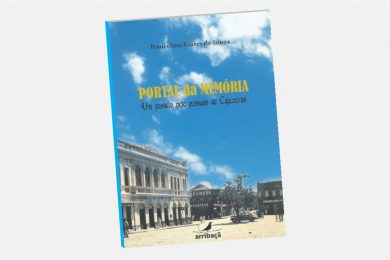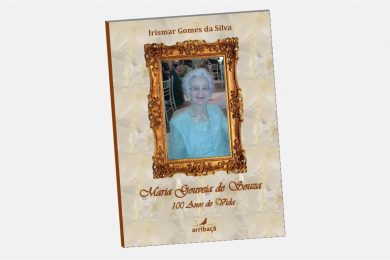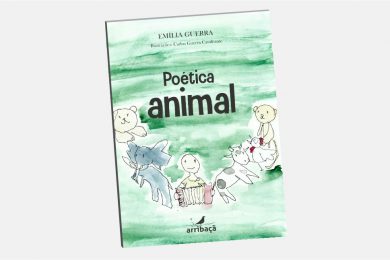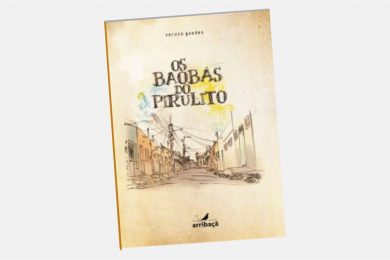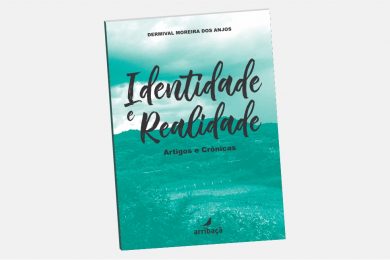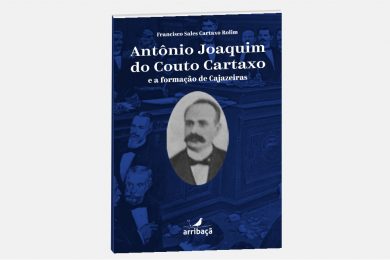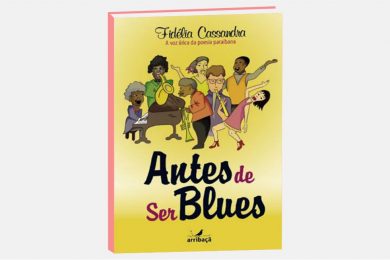Durante um certo período, a crônica foi considerada um gênero de quem jogava conversa fora. Pouco a pouco, porém, parte do público leitor deixou de fazer ouvidos moucos e passou a ser todo ouvidos para os que investiam nessa modalidade literária. Adquirindo, pois, um certo prestígio, uma certa reputação, além de ser considerado um gênero que deitou raízes profundas no solo brasileiro, nele se adaptando e ganhando cidadania, arregimentou muitos adeptos, desde José de Alencar, passando por Machado de Assis, João do Rio, até chegar a Rubem Braga, Fernando Sabino, Eneida, Raquel de Queiroz, Paulo Mendes Campos, Veríssimo e muitos outros. Hoje, o gênero está plenamente consolidado, decorrendo daí o prestígio que desfruta entre críticos e leitores.
Jovem ainda – e não sei por que cargas d’água –, imaginava o cronista, o cultor do gênero crônica, à imagem e semelhança de um camelô vociferando a céu aberto, vendendo o seu produto: o cotidiano, que é da matéria do dia a dia que se nutre a crônica, quer o camelô grite a plenos pulmões, quer se feche em copas, introspectivo, intimista, conversando com os seus botões, consigo mesmo, embora procure fazer com o que ele diz, reverbere, repercuta, entre os que se aglomeram inamovíveis ao seu derredor.
Às vezes, na esteira do camelô da lírica bandeiriana, eis o cronista tal e qual um “demiurgo de inutilidades” a vender bugigangas, vidrilhos, mixarias, nonadas, sempre desprezado pelos que não sabem ver a utilidade das coisinhas miúdas, dos sobejos de Deus, das “pequenas grandezas do universo”. É que, do aparente monturo, o bom escritor muitas vezes extrai um inexaurível filão poético: “Subnutrido de beleza, meu cachorro-poema vai farejando poesia em tudo, pois nunca se sabe quanto tesouro andará desperdiçado por aí… Quanto filhotinho de estrela atirado no lixo” (Busca, de Mario Quintana).
É também desse “filhotinho de estrela atirado no lixo” que se alimenta o bom cronista, pois a crônica somente sobrevive à vida efêmera dos jornais quando revestida de literariedade; caso contrário, mal as notícias se tornam velhas, mal perdem o seu prazo de validade, elas e os jornais servirão apenas para embrulhar um molho de celgas, conforme observou Julio Cortázar em O Jornal e suas metamorfoses, texto inserto no livro Histórias de Cronópios e de famas.
Fez bem Adhailton Lacet Porto em selecionar parte dos seus textos difundidos no já extinto jornal Correio da Paraíba para publicá-los no livro “Os Ditos do Quiçá”, com o selo da cajazeirense Arribaçã, que vem se destacando no mercado editorial paraibano. E essa transposição se assenta ou se justifica a partir da necessidade do escritor trocar “a tenda precária e cigana por uma casa sólida e mais duradoura”, ou seja, o jornal pelo livro.
“Os ditos do Quiçá” é quase todo sobre autores e livros, que Adhailton os possui a mancheia e em tal quantidade que eles, os livros, já tramam mover uma ação de despejo contra o bibliófilo, o escritor e o juiz.
Pois bem. Nesse volume, Adhailton escreve com conhecimento de causa e propriedade sobre muitos autores, entre eles, Manuel Bandeira, Drummond, Rubem Braga, Clarice Lispector, Maura Lopes Cançado e Breno Acioly, os dois últimos, embora portadores de sérios problemas psicológicos, responsáveis pela fatura de textos saudáveis, cheios de vigor, incompatíveis com a enfermidade que os devastava. E isso na medida em que sabiam distinguir as “esquizofrênicas” vozes interiores das quais se nutre todo verdadeiro artista das vozes esquizofrênicas propriamente ditas. Cumpria a ambos, ainda, administrar/reelaborar as vozes enfermas, dando-lhes um tratamento consentâneo à realidade da obra ficcional.
Mas além do Adhailton observador do gabinete, da biblioteca, do que palmilha e compulsa as vertentes livrescas à sombra das estantes acesas, existe o Adhailton que sai à rua e propaga o cotidiano do Varadouro, microcosmo de uma João Pessoa que, de tão pequena, “cabia inteirinha num só olhar”.
No caso, no olhar do menino Adhailton, que açambarcava a Ponte do Baralho, a Praça da Pedra, as águas encarapeladas do rio Sanhauá, o manguezal, enfim, muitos outros acidentes geográficos, pessoas e coisas, já intuindo, quem sabe, que “tudo acontece para terminar em livro”, mais exatamente nesse “Os Ditos do Quiçá”, de leitura tão prazerosa.
- Sérgio de Castro Pinto é doutor em literatura, professor e poeta, membro da APL. Texto publicado originalmente no jornal A União, de 23 de outubro de 2020